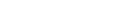-
Notícias
- Eventos
- Provas de Mestrado
- Provas de Doutoramento
- Provas de Agregação
- Centro de Línguas (CLECS)
- Centre Universitaire d’Examens DELF-DALF de l’Université d’Évora - Centro Universitário de Exames DELF-DALF da Universidade de Évora
- Serviço de Extensão à Comunidade em Psicologia (SEC-Psi)
- Cursos Livres
- Apontadores
Vivemos tempos estranhos. Tempos que têm vindo a inverter o sentido das palavras que fundaram as sociedades do bem-estar que foram fundadas desde há 70 anos para cá. Jogando com as palavras, dir-se-ia que se vive um tempo de indivíduos “individualizados” num sistema que, por ter triunfado na correlação histórica de forças que se bateram no plano internacional, se tornou vítima de não ter inimigos, os inimigos que o obrigaram a assumir formas sempre novas e melhores ao longo do tempo. Segundo muitos, estaremos à beira de um “duradouro interregno”, não de um sistema mundial de equilíbrio, qualquer que ele seja, mas um período de entropia regressiva, de decomposição da própria integração sistémica que hoje prevalece. Não admira, por isso, que se viva numa época onde é, de forma implícita, enaltecido o free rider, ainda que o próprio sistema não possa admiti-lo, sob pena de pôr em causa a própria ordem social. Mas é facto que, nas atuais circunstâncias, os indivíduos, sem identidades próprias no plano racional – ao contrário do que a Modernidade prometeu –, apenas cooperam entre si por micro-razões, já que ninguém parece compreender por que razão ao crescente avanço da tecnociência corresponde um aumento das desigualdades, a crescente globalização é correlativa de um enfraquecimento do poder e interesse públicos, os regimes democráticos são cada vez menos atraentes, quer para a grande massa de indivíduos (que se sentem desprotegidos), quer para as elites (que se sentem impotentes para compreender e dirigir um sistema político deficitário em termos de legitimidade material). Tudo está intervencionado e regulado, embora se diga vivermos em sociedades que dão primazia à liberdade e autonomia do indivíduo. Relembrando Claus Offe, parece que o sistema tem de, para funcionar, se tornar tão minucioso que forçosamente gera elementos que lhe são hostis.
Esta crise gera um cinismo social e político generalizados, que destroem as tradições e identidades que edificaram a própria sociedade liberal, tornando o seu (limitado) universalismo completamente disfuncional. Depois, as sucessivas necessidades que uma sociedade acelerada engendra acabam por não ser satisfeitas, porquanto a “crematística” é desprovida de sentido no plano concreto da vida da maioria dos indivíduos. Existe, assim, uma tendência permanente para a crise económica, de legitimação, de racionalidade e de motivação, para usar a tipologia a que Habermas chamou os “teoremas” da crise das sociedades desenvolvidas. E a crise de motivação traduz-se na “privatização” que os indivíduos operam relativamente à esfera pública (que se tornou crassamente despolitizada), ao todo social do qual só esperam rendimentos e vantagens sem qualquer pressuposto de correspondência cívica. Ora, as democracias só sobrevivem quando os indivíduos (no mínimo) se convencem de que são cidadãos e participam na formação da vontade política coletiva. Todavia, o que de facto funciona é outra coisa: o pressuposto segundo o qual todos devem participar numa competição geral em condições razoavelmente equitativas é quebrado sempre que um “cidadão” se encontra sob condições de coação material (como o desemprego, por exemplo) e/ou simbólica. Este défice é escondido mediante “bens consumíveis” que possuem um sentido pobre para as visões do mundo de que necessita qualquer sociedade. A insignificância discursiva que domina, uma espécie de “máquina dóxica” que esmaga o conhecimento, quer comum, quer científico, terraplena tudo em clichés redutores que dão a ilusão de que tudo pode ser discutido em termos simplistas.
As universidades têm, por isso, uma grande responsabilidade pela frente. Não que possam valer-se de uma pretensão a um conhecimento desinteressado, “ars gratia artis” (como na imagem do leão dos filmes da Metro...), mas porque, mesmo que falsos territórios utópicos, sempre tiveram como missão aquilo que denomino como engrandecimento do horizonte de expetativas de uma sociedade em cada momento histórico. É assim que as universidades nunca deixaram de possuir uma capacidade potencial de produção de um surplus que contribua para o avanço e o progresso social. E é assim que tem sido dito que as universidades são as únicas instituições sociais que estão mandatadas para pensar os seus próprios limites. A primeira manifestação no sentido de dar novo fôlego a este desiderato na transição paradigmática de fins do século XX foi a Magna Charta Universitatum de 1988 quando 388 reitores de universidades europeias, em Bolonha, escreveram uma verdadeira Declaração progressiva sobre as novas funções das universidades futuras. Esta Declaração foi assinada pela Universidade de Évora. Nela se incluem grandes princípios, como o da indissociabilidade entre atividade de investigação e atividade didática, ou o da independência face a qualquer poder político, económico e ideológico. Pois bem, os entendimentos posteriores entre os Estados sobre o chamado “Processo de Bolonha” ficaram muito aquém daquela Declaração, como todo o mundo sabe, embora finja que não. Daí resulta o facto de as universidades em geral terem cedido aos teoremas da crise e pouco se fazer em prol do excedente cultural com que as universidades deveriam liderar as sociedades, em vez de serem suas servas funcionais. Eis todo um convite para um novo caminho a percorrer. Ainda que eu esteja cético relativamente ao seu êxito. Não porque estejamos, passivos, à espera dos bárbaros, para lembrar o célebre poema de Kavafis. Mas porque eles sempre estiveram entre nós.
Prof. Doutor Silvério Rocha e Cunha
Diretor da Escola de Ciências Sociais